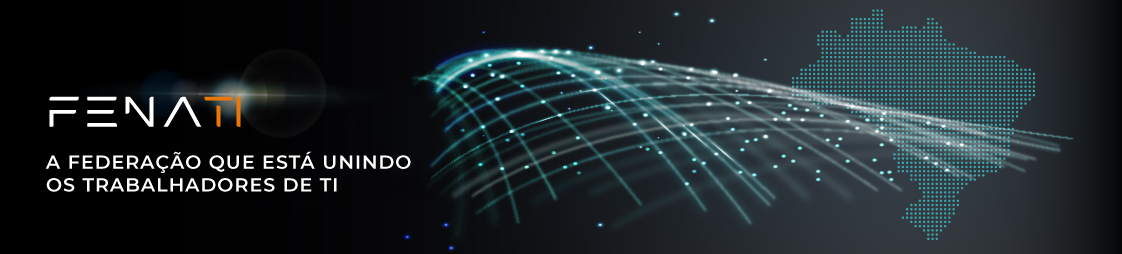Constituição de 1988 – Veículos da imprensa noticiaram extensas filas de trabalhadores, entre 20 a 25 deste mês, para recusar a cobrança de contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família (Sintraemfa).
As notícias enfatizam o sacrifício, o esforço e a paciência dos trabalhadores para fazer valer os seus direitos de não pagarem qualquer quantia para o sindicato, mas não esclarecem que a cobrança é destinada ao custeio de campanhas salariais exitosas, que beneficiam todos os trabalhadores e não apenas filiados ao sindicato.
Opinião: “Flávio Dino mira terceirização, pejotização e fraudes trabalhista e tributária”
Os sindicatos no Brasil são pessoas jurídicas de direito privado, sobretudo após a Constituição de 1988, que vedou interferência do poder público na organização e atividades sindicais. A contribuição sindical obrigatória, de natureza tributária, era um resquício do perfil publicista dos sindicatos, tendo como contrapartida o dever de atuar para toda a categoria.
A Lei 13.467, de 2017, eliminou a obrigatoriedade da contribuição sindical, o que levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a manifestar pela constitucionalidade da alteração (ADIs 5.794 e outras e ADC 55) e, posteriormente, rever o seu posicionamento para determinar a constitucionalidade da contribuição assistencial prevista em acordo ou convenção coletivos, de filiados e não filiados do sindicato, assegurando-se o direito de oposição (ARE 1018459, DJE 30.10.2023; Tema 935).
As questões em torno à oposição também são objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Tribunal Superior do Trabalho (TST), para definir o modo, tempo e lugar de seu exercício (TST 20516-39.2022.5.04.000).
Observa-se que há considerável campo para a discussão do tema e margem de incertezas. Por isso, é necessário ter cautela no tratamento da matéria, especialmente em relação a uma questão que é determinante para as possíveis respostas. Se o exercício da oposição à contribuição assistencial é uma manifestação do direito de não se filiar ao sindicato, assegurado pelo artigo 8º, V, da Constituição. Uma correlação precipitada entre contribuição assistencial e filiação pode contaminar toda a análise e dar ensejo a visões distorcidas da realidade.
Contribuição não é filiação compulsória
A contribuição assistencial não corresponde à filiação compulsória. Ela é tão somente a remuneração dos gastos relacionados com o processo de negociação coletiva. Filiação compulsória haveria se a contribuição assistencial custeasse todas as atividades regulares do sindicato, e os não filiados tivessem a mesma responsabilidade e encargos dos filiados. Ela tampouco resgata a antiga contribuição obrigatória.
A contribuição assistencial é uma modalidade de cláusula de segurança sindical, agency fee ou fair share, destinada ao custeio de uma atividade que vai beneficiar todos os trabalhadores e não apenas os filiados ao sindicato. Ela se diferencia de outras cláusulas de segurança sindical, prevendo filiação compulsória no momento da contratação ou posterior a ela (closed shop e union shop).
Essa diferenciação é bem pronunciada no direito coletivo do trabalho norte-americano. A Lei Wagner (1935) previa as cláusulas closed shop, union shop e agency shop, com a correspondente cobrança das taxas e contribuições (fees e dues) para os sindicatos. Contudo, a Lei Taft-Hartley (1947), em reação ao rápido crescimento dos sindicatos naquele país, limitou a Lei Wagner para proibir a cláusula closed shop, sendo ambígua quanto à union shop.
Além disso, a Taft-Hartley previu a cláusula open shop, mediante delegação aos estados para aprovar leis estaduais proibindo cláusulas de segurança sindical (right to work laws). A Suprema Corte, no caso Labor Board v. General Motors Corp., 373 U.S. 734 (1963), esclareceu que a única cláusula de segurança sindical autorizada pela Taft Hartley é a agency shop porque não acarreta filiação compulsória do trabalhador ao sindicato.
O pagamento da agency fee, nos estados que não vedam sua cobrança por meio de leis right to work, pode ser objeto de oposição por trabalhadores não filiados, mas tão apenas em relação ao custeio do que não tem relação com a negociação coletiva e a administração dos acordos coletivos, como as atividades políticas e de lobbies. Para identificar esses gastos, os sindicatos estão sujeitos à prestação de contas, com discriminação dos valores, conforme o caso Beck v. Communications Workers of America, 800 F.2d 1280 (4th Cir. 1986).
O serviço público, que não está no campo de regulação das Leis Wagner e Taft Hartley, observava a mesma sistemática, conforme Abood v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209 (1977). Porém, em 2018, a Suprema Corte superou Abood com o caso Janus v. AFSCME, 585 U.S.? (2018) para vedar cláusulas de segurança sindical no serviço público, inclusive para custeio da negociação coletiva.
O caso Janus refere-se apenas a servidores públicos, que, como dito, não são protegidos pela lei de relações coletivas (NLRA) e o julgamento aplicou liberdades constitucionais exigíveis em relação ao poder público. A Suprema Corte pontou que Abood não conferiu relevância à diferença entre empregados da iniciativa privada e os servidores públicos.
Liberdade para recusar todo trabalho do sindicato
Ultrapassado este ponto, de que a contribuição assistencial não acarreta a filiação ao sindicato, mas se volta para o custeio da negociação coletiva que alcançará todos os trabalhadores, a oposição à cobrança se situa no âmbito patrimonial e privado e não do exercício de um direito fundamental. A menos, como dito, que ao trabalhador não filiado seja imposta contribuição para custear despesas regulares do sindicato, como se filiado fosse. Neste caso, a oposição ao que não se destinaria ao custeio da negociação coletiva corresponderia, sim, ao exercício do direito fundamental de não se filiar ao sindicato.
Mas se o trabalhador não é filiado ao sindicato, ele é obrigado a se submeter compulsoriamente a um serviço do sindicato? Numa relação de direito privado, o trabalhador é livre para não se sujeitar à deliberação da coletividade. Mas neste caso, usando a expressão utilizada na decisão do STF, ele tem o direito ao opt-out, ou seja, recusar o processo como um todo e não apenas a cláusula da contribuição assistencial.
No âmbito do direito coletivo do trabalho, a teoria do conglobamento determina a aplicação do instrumento na integralidade, de modo que não se pode pinçar as cláusulas benéficas, colocando de lado as desfavoráveis. Da mesma forma, não cabe ao sindicato, como associação privada, prestar serviços para não associados sem qualquer contrapartida. Esta possibilidade não encontra respaldo no texto constitucional e nem mesmo no Código Civil, que veda a possibilidade de enriquecimento sem causa ou à custa de outro (artigo 844).
Voltando ao Sintraemfa, verifica-se, na página do sindicato, que a convenção coletiva em vigor contém várias cláusulas benéficas e com condições de trabalho superiores às previstas em lei. Não se trata de acordo simulado no intuito de arrecadar valores. Evidentemente, os trabalhadores que fazem fila para não pagar a contribuição não cogitam abrir mão dessas conquistas. A opção, meramente patrimonial, de não contribuir trará impactos nas negociações futuras, na medida em que a diminuição dos recursos reduzirá o poder de barganha do sindicato.
Enfraquecimento de sindicatos e negociações coletivas
O estímulo ao exercício da oposição à contribuição assistencial enfraquece sindicatos e inviabiliza negociações coletivas livres e de boa-fé. Trata-se de prática antissindical que se alia a narrativas bem presentes na atualidade, como a do empreendedorismo, que mina o direito do trabalho e os sindicatos, divulgando a falsa ideia de que os trabalhadores não querem proteção social e sindicatos; querem, ao contrário, ser livres e não pagar por serviços voltados para a coletividade.
A fragmentação e a quebra da solidariedade convertem trabalhadores em presas fáceis para serem explorados e expropriados num contexto de selvageria que vai minando os padrões civilizatórios conquistados ao longo da história.
O voto vencedor no STF, quando reconheceu a constitucionalidade da contribuição assistencial, baseou-se no imperativo constitucional abraçado pelo tribunal de valorização da negociação coletiva. O voto também indicou a fixação da contribuição em assembleia e eventual exercício de oposição naquele momento. De maneira similar, a Lei 11.648, de 2008 (Lei das Centrais) fez menção à contribuição negocial para substituir a contribuição sindical obrigatória, autorizando a assembleia a definir sua cobrança e vinculando-a à efetiva negociação coletiva.
A prevalência de posições individuais, em detrimento das coletivas, não impulsiona a negociação coletiva, mas, ao contrário, cria barreiras, por meio da figura do carona (free rider), que se beneficia à custa da contribuição de outros. Um modelo de valorização da negociação coletiva pressupõe sindicatos autônomos titulares de direitos coletivos, que podem prevalecer quando em conflito com direitos individuais, desde que a serviço dos integrantes do grupo.
A oposição à contribuição expande a perspectiva individualista, que vai de encontro à solidariedade do grupo para custear os benefícios do acordo coletivo, fragmentando a coletividade e fragilizando o poder de barganha do sindicato em futuras negociações coletivas.
Os filiados, por sua vez, indagarão a razão de estarem custeando benefícios para não filiados que não querem contribuir (free-riders) e enriquecem à custa dos que contribuem. Reconhecer a constitucionalidade da contribuição assistencial, mas expandir a oposição, é dar com uma mão e retirar com a outra, além de dar respaldo jurídico ao enriquecimento sem causa vedado por lei.
Prevalência do individualismo
Portanto, é chegado o momento de definir essas questões, conforme estabelecido pela Constituição, ou seja, no marco de uma sociedade justa, livre e solidária, regida pelo Estado democrático de direito, que pressupõe pluralismo político, com sindicatos e grupos sociais fortes.
A prevalência do individualismo, da indiferença, da mesquinhez e de que sempre é possível ganhar algo a custa do sacrifício dos outros afronta diretamente a Constituição, ao se adotar a lógica da liberdade sem responsabilidade e do ganho imediato, sem se importar com os outros e com o futuro.
Responsabilidade parece ser a chave para o funcionamento de um modelo de negociações coletivas, conduzido por sindicatos fortes e autônomos, e que logrem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores.
Responsabilidade dos sindicatos de não usarem o processo de negociação coletiva como mero pretexto para arrecadar recursos. Responsabilidade dos trabalhadores de não buscarem vantagens à custa dos outros e fragmentarem a categoria, comprometendo o poder de barganha do sindicato nas negociações futuras. Responsabilidade dos empresários de preservarem interlocutores legitimados para flexibilizar condições de trabalho em situações excepcionais. E sobretudo responsabilidade do poder público de reconhecer a essencialidade dos sindicatos e da valorização do processo de negociação coletiva para o aprimoramento da democracia, criando as condições para que o texto constitucional se transforme em realidade e coibindo possíveis abusos pelas vias próprias, mas jamais pela limitação dos direitos que efetivamente valorizam a negociação coletiva.
Por Ricardo José Macedo de Britto Pereira, professor titular do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e subprocurador geral do Trabalho aposentado
*Texto publicado originalmente no portal Conjur
( Foto: Gabriela Biló/Folha de São Paulo)